Publicado em 1701/2025 às 17h29
Por Antonio Rocha – O TIRO DE GUERRA

A cidade ainda era muito pequena, pacata, de gente simples e inventiva. Estava sob regime e vigilância dos militares, que instituiu até um tiro de guerra. Refiro-me a uma bela construção de cimento e alvenaria, um edifício suntuoso, cuja finalidade era deter os supostos terroristas de então.
Havia, inclusive, um cartaz afixado na parede da delegacia, além dos inúmeros espalhados pela cidade. Colados em postes, muros e outros espaços de grande visibilidade, expunham nomes e rostos dos procurados, seguidos do exasperado alerta sobre os perigos que representavam ao Estado. Como se não bastasse, os referidos cartazes incentivavam, através da oferta de vultosas recompensas, a delação que levasse à captura dos “inimigos” da pátria.
Foi a primeira vez que ouvi falar em delação premiada, apelidada de recompensa, ainda na minha segunda infância. Vale esclarecer que, na época, essa tal delação era informal, portanto, sem previsão legal.
O supra mencionado prédio tinha uma estética bonita, mas a sua construção ensejou uma escalada de medo e pavor aos moradores locais. Diuturnamente víamos os movimentos das tropas e ouvíamos os estrondos dos pavorosos coturnos. Não sei o que mais amedrontava a população, se o superestimado perigo dos terroristas, ou a ostensiva ameaça dos militares.

O povo, na verdade, não tinha a menor ideia a propósito de terrorismo e terrorista, pois nunca os vira em lugar algum. Soldados, esses sim, ali haviam muitos, ao passo que “terroristas” mesmo, povoavam apenas a envenenada imaginação. Sabia-se, por boca dos outros, que terroristas significavam comunistas que se opunham ao sagrado sacramento do matrimonio, comiam criancinhas, tomavam os bens e os pertences das pessoas. Não eram coisa de Deus! Mas, nós mesmos, jamais vimos, no cotidiano, consubstanciada tal aleivosia.
Corria o boato de que os soldados, que vieram proteger o povo e o município, interrogavam as pessoas por meio de métodos truculentos e perguntas comprometedoras e ameaçadoras. Camponês, gente simples da cidade, pessoas alheias à rígida doutrina militar; esse era o perfil dos interrogados. Contava-se que o interrogatório era acompanhado de muita crueldade.
Arrancavam-se unhas com alicate, queimavam-se corpos com ferro quente, tosquiavam-se a pele com baga de cigarro aceso e outras práticas repulsivas e abomináveis. Essa prática era tão corriqueira, que se tornou motivo dos sussurros populares, sob o turvo véu da censura estatal.
A rigidez do sistema era tal que, certa vez, um garoto de 15 foi submetido publicamente à humilhação imposta pelos militares. Por ele ostentar uma bela cabeleira blackpower foi instado a cortar o cabelo ornamental, com uma máquina regulada no número zero. Ele saiu assombrado da barbearia e nunca mais quis se encontrar com um milica. Por essas e outras, o povo vivia assustado, sobressaltado e inseguro.

Mas, num determinado dia, noticiou-se pela cidade o assassinato de alguns terroristas, inclusive o mais procurado. Desde então, desistiram do tiro de guerra e os soldados foram embora, deixando a cidade respirar o bom ar da liberdade. Não me recordo de tiros ou tiroteios na minha cidade, mas me lembro da guerra, guerra de nervos, guerra psicológica. Muitos camponeses enfurnaram-se em suas casas no sertão, para nunca mais botarem os pés na civilização sequer para comprar remédio nas farmácias, querosene para o candeeiro ou para registrarem seus filhos nos cartórios.
Somente aos poucos o povo voltou a ocupar as ruas, os jovens a se reunirem nas praças e as crianças a frequentarem os parques infantis nos jardins. Não se sabe ao certo quem defendia o povo naquela cidade, se os soldados ou os comunistas, porque ao povo mesmo nada foi bem explicado.

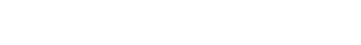





Ah.meu caro Antônio. Que tempo difícil..que liberdade era essa que esse povo pregava.. neh? Kkk ainda tem coisas q pode melhorar. Avante.
O que lembro desse período são dos desfiles cívicos, dos uniformes, dos livros didáticos, dos hinos cívicos. A escola era um espaço de doutrinação militar. Porém, eu nem tinha noção disso, vivi apenas minha infância, adolescência e parte da juventude no regime militar, mas não tinha consciência do que realmente era.